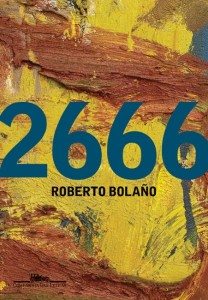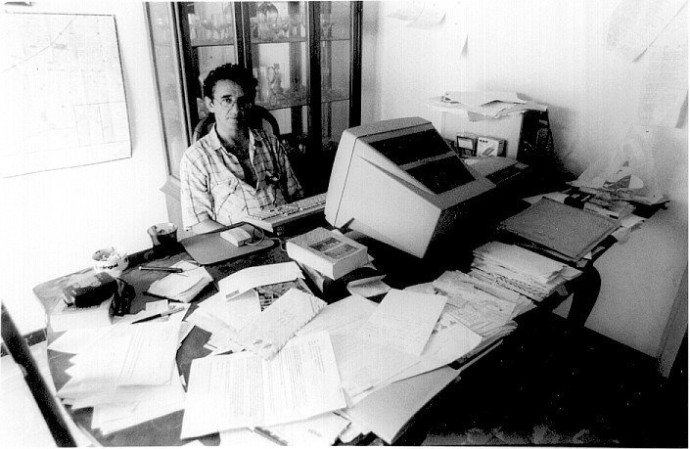Cada pequeno episódio do livro de Bolaño pode ser lido e interpretado de maneira análoga em relação ao universo que representa 2666.
O último romance de Roberto Bolaño, que já estava doente e faleceu pouco depois de entregar os últimos originais, foi planejado por ele para ser dividido em cinco livros a serem lançados independentemente. Este plano foi elaborado, aparentemente, para que sua família pudesse obter uma renda melhor com os lançamentos separados. Contudo, o editor, com a concordância da própria família, achou melhor lançá-lo em um único volume. A meu ver e de outros tantos que apreciaram muito 2666, a decisão foi acertadíssima.
2666 é um livro cru, rico, mas cru, sem enfeites, sem tergiversações desnecessárias – o que é um prodígio numa obra tão extensa. Os cinco romances que o compõem são divididos em A parte dos críticos, A parte de Amalfitano, A parte de Fate, A parte dos crimes e A parte de Archimboldi, redundando em 848 páginas pela edição brasileira (e mesmo a crítica especializada dizendo que a conexão entre elas seja sutil, discordo e creio que qualquer leitor arguto verá que se embrenham indiscretamente). Bolaño começa por retratar o modus vivendi, de quatro intelectuais europeus obcecados na obra de um escritor de nome Beno von Archimboldi, que desapareceu pelo mundo sem deixar vestígios.
A busca que estas personagens vazias empreendem pelo escritor é renhida, obsessiva, quase canibal e é descrita por Bolaño com a mesma naturalidade com que descreve a lucidez ou a loucura de um professor acadêmico e a mediocridade ressentida de um repórter negro norte-americano designado para cobrir uma anódina luta de boxe nos confins do deserto de Sonora, estado mexicano, em que várias mulheres vêm sendo estupradas e mortas há anos, sem que se tenha pista do(s) assassino(s). As histórias vão se desdobrando, costuradas por estes assassinatos na violenta região fronteiriça entre México e Estados Unidos, em que os corpos vão aparecendo, como se fossem dejetos abandonados após o uso, diante da impotência das autoridades locais. Trata-se da pequena cidade de Ciudad Juárez, que na ficção de Bolaño foi denominada de Santa Tereza. A denominação de “partes” a cada romance, ademais, faz refletir o quanto o gosto de Bolaño por cinema tenha se incutido na nomenclatura.
Este colosso literário está dividido em 5 partes.
A parte dos críticos (150 páginas) possui sua ação centrada em um grupo de acadêmicos europeus que se dedicam integralmente à obra de um escritor misterioso, de quem não é possível reunir mais do que alguns fragmentos de biografia. Obscuro e isolado da sociedade há muitos anos, a figura de Archimboldi delineada por Bolaño partilha certas excentricidades com J.D. Salinger, conhecido por sua ojeriza ao convívio social (o que nos remete, nas terras brasileiras, a Dalton Trevisan ou Rubem Fonseca). Este núcleo apresentado pelos críticos europeus irá simbolizar o primeiro de uma série de outros núcleos de personagens subsequentes. A ironia velada que Bolaño destina à cultura europeia letrada, que não hesita em cruzar um oceano atrás de um objeto de estudo, é apenas o primeiro estágio de uma complicada rede de elementos que, por mais desconexos que pareçam, estão todos imbricados em um projeto de obra que, também não à toa, brinca, desde as primeiras páginas, com os quadros de Giuseppe Arcimboldo, pintor italiano do século XVI, célebre por suas figuras antropomorfas.
Acrescenta-se, ainda, que fica evidente a intenção do escritor de demonstrar o cotidiano vazio dos intelectuais europeus, os quais, aparentemente bem-sucedidos financeira e intelectualmente, reconhecidos em seus âmbitos acadêmicos, não preenchem as necessidades mais básicas do ser humano. Norton, Pelletier, Morini e Espinoza são solitários, problemáticos, vivem vidas vazias que convergem para um ponto comum: Benno von Archimboldi, o enigmático escritor alemão, que além de simbolizar a intangível satisfação por eles almejada, funciona também como uma alegoria da vida profissional no mundo (pós)moderno – mais do que aceitar, chega mesmo a ser incentivado que o trabalho ocupe todos os instantes possíveis. O tomo, ainda, deve muito à literatura borgiana, com suas brincadeiras com a cultura acadêmica, com autores e obras que só existem nos livros do próprio Borges, assim como Archimboldi e seus livros só existem em 2666.
A segunda parte, A parte de Amalfitano (64 páginas), é narrada do ponto de vista de um professor universitário que vive em Santa Teresa. “Não sei o que vim fazer em Santa Tereza, se disse Amalfitano ao cabo de uma semana vivendo na cidade” (p. 165), são as linhas iniciais do trecho, a menor das partes, e que começam a individualizar a figura excêntrica de Amalfitano. O presente humor absurdo e fantástico tem um toque de Gabriel Garcia Marquez. Amalfitano ouve uma voz, ou vozes, que lhe chama(m) de “bichona” e lhe ordena(m) pendurar um livro de geometria no varal da casa que compartilha com Rosa, sua filha. A falta de convencionalidade, ou a aparente ausência de sentido que guiam os atos do professor universitário colocam em evidência a maneira como essa parte específica da obra possui, em seu centro, um microcosmo do que realmente é 2666: cinco unidades estruturais distintas que parecem desafiar a lógica e a racionalidade do mundo dito real. Ao pendurar o livro de Rafael Dieste no varal, Amalfitano não está apenas colocando o conjunto da obra em perspectiva, mas também está mostrando como os limites entre a vida e a arte são frágeis. Marcel Duchamp poderia pensar no ato como uma intervenção artística no cotidiano, mas o que parece guiar Amalfitano é a subversão da lógica representada pelo livro de geometria; é um ato simbólico que, apesar de remontar o surrealismo e todo seu desejo de libertação das amarras da razão, mostra-nos como cada pequeno episódio do livro de Bolaño pode ser lido e interpretado de maneira análoga em relação ao universo que representa 2666.
A terceira parte do livro (114 páginas) narra a viagem de um repórter esportivo, Quince Willians/Oscar Fate, a Santa Teresa. Fate trabalha em uma revista voltada a afroamericanos, percebendo-se nuances da literatura americana, especialmente nos diálogos cadenciados segundo o ritmo da fala local (algo do tipo “- Quer que eu faça a cobertura da luta? – Isso mesmo, rapaz – disse Roberts –, umas cinco páginas, um perfil sucinto de Pickett, a luta e um toque de cor local” – p. 258). Se pensarmos nessa parte especificamente, pode ser descrita, inicialmente, como a mais tradicional. Um olhar mais atento, porém, já coloca em evidência que o próprio protagonista desse livro, com sua identidade bipartida e sua reação à morte da mãe (que ecoa Mersault, em O estrangeiro, de Camus), oculta algo. Sejam sentimentos ou segredos de qualquer natureza, não é possível definir que tipo de indivíduo seria ele.
O interessante, no entanto, é que Fate será o primeiro a mergulhar na face realmente obscura de Santa Teresa. Enviado para cobrir uma luta de boxe, os assassinatos de mulheres ocorridos na cidade chamam sua atenção quando ouve uma conversa ao fazer uma refeição em um humilde restaurante mexicano (p. 260). A respeito da conversa, salienta-se que, mais uma vez, um episódio da obra vai simbolizar mais do que uma superficial análise da situação da crueldade no mundo moderno, mas também o mergulho nela que será empreendido pelo personagem.
A partir desse diálogo, entreouvido entre ruídos de carros e conversas paralelas, Fate vai ficar cada vez mais obcecado pelos assassinatos. No mesmo diálogo, ao fim, encontramos a opinião do professor Kessler sobre o México: “- Bom – disse o homem de cabelos brancos. – Vou compartilhar com vocês três certezas. A: essa sociedade está fora da sociedade, todos, absolutamente todos são como os antigos cristãos no circo. B: os crimes têm assinaturas diferentes. C: essa cidade pujante, parece progredir de alguma maneira, mas o melhor que poderiam fazer é sair uma noite ao deserto e cruzar a fronteira, todos sem exceção, todos, todos” (p. 263). Afirmar que se trata de uma sociedade que está fora da sociedade, que todos são como antigos cristãos no circo, equivale a dizer que não há nenhuma perspectiva de salvação para todos que se encontram nessa situação. Chegamos, assim, ao que é de fato o centro para onde convergem todas as histórias paralelas em 2666: o mal.

A passagem da qual Fate é protagonista funciona quase como uma introdução para o que será, não só a maior, mas também a mais significativa e perturbadora parte da obra de Bolaño: A parte dos crimes (264 páginas). As afirmações acima, de Kessler, investigador criminalista que se encontrava em Santa Teresa, fazem muito mais sentido quando temos em vista o conteúdo das páginas seguintes. São descritos, ao todo, mais de 100 assassinatos de mulheres, que possuem como inspiração crimes reais ocorridos entre os anos de 1993 a 1997. São tantos que é impossível reter nomes das vítimas, locais de crimes e métodos do(s) assassino(s).
Pensamos pela primeira vez que esta talvez seja a ideia do autor: transformar as vítimas em traços, como nos relatórios de estatísticas, banalizando os crimes cometidos contra as mulheres no México, ideia reforçada pelas passagens em que se vê o machismo local, como quando policiais contam piadas em uma lanchonete (p. 527). É, também, nessa parte em particular, que conseguimos delinear com objetividade a maneira específica que Bolaño usará para retratar o mal, que invariavelmente irá nos remeter ao título. 2666 significará, no contexto da obra, um futuro apocalíptico.
Mas que poderia ser, como sugere o crítico Ignácio Echevarría no prefácio, um ponto de fuga para onde convergem as caudalosas páginas do romance, projeto de que Bolaño se orgulhava por ser o mais ambicioso de sua vida.
Os crimes relatados na quarta parte são, de fato, o que deixa entrever a vultosa engenharia do livro do chileno. Ainda que a violência e o horror já houvessem sido temáticas na obra do escritor, nada se compara ao que encontramos nas páginas de 2666: “Em junho morreu Emilia Mena Mena. Seu corpo foi encontrado no lixão clandestino perto da rua Yuatecos, na direção da olaria Hermanos Corinto. No laudo médico-legal, indica-se que foi estuprada, esfaqueada e queimada, sem especificar se a causa de morte foram as facadas ou as queimaduras, e sem especificar tampouco se no momento das queimaduras Emilia Mena Mena já estava morta. No lixão onde foi encontrada ocorriam constantes incêndios, a maior parte voluntários, outros fortuitos, de modo que não se podia descartar que as calcinações de seu corpo se devessem a um fogo dessas características e não à vontade do homicida” (p. 360). Em outros trabalhos como O Terceiro Reich e Noturno do Chile, como dito, Bolaño já havia narrado assassinatos, mortes violentas e histórias policiais.
O que chama a atenção, no entanto, é o fato de que nessas obras sempre houvesse concedido lugar particular àqueles que foram mortos pela ditadura militar, ou ainda aos que foram mortos pelo regime nazista; já em 2666 sua narrativa é movida por uma estética de aniquilação, um desejo que existe de destruir por completo uma alteridade que se despreza ou desconhece. Se nas obras que antecedem 2666 podemos identificar, ou melhor, mapear o tipo de violência e horror a que o escritor dará voz, como podemos interpretar o caso específico dos assassinatos de mulheres nesse livro? Por que poderíamos afirmar que esse livro simboliza uma singularidade na estética da violência que já vinha sendo explorada pelo autor? A partir das descrições despidas de emoções, objetivas, com um tom que beira o científico, Roberto Bolaño consegue colocar em evidência os mortos ilegíveis da realidade pós-moderna.
Quando falamos das vítimas das ditaduras sul-americanas, ou ainda do genocídio perpetrado pelo Partido Nacional-Socialista, estamos inevitavelmente falando de vítimas que, por mais que permaneçam presas para sempre no anonimato, abandonadas sem identidades nas valas perdidas da crueldade passada, pertencem ao inventário cultural da humanidade. São mortes que foram sentidas, punidas, muitas vezes e, ocasionalmente, solucionadas. O que quer dizer que as mulheres assassinadas de Santa Tereza (ou poderíamos dizer Ciudad Juárez) são mortes que não pertencem a ninguém. Assim, no lugar fronteiriço ocupado pelo México, lugar esse que não é apenas geográfico, mas também sócio-econômico, o que vemos é um deserto onde cidades sucateadas servem como dormitórios para os funcionários de maquiladoras.
O que muda na nova ordem mundial são as vítimas, diárias, anônimas, que chegam ao nosso conhecimento pelos restos de notícias que infestam as páginas dos jornais. A ferocidade do novo momento do capitalismo encontra sua maior analogia na figura contraditoriamente anônima dos crimes sem solução. Inúmeras, cruéis e insolúveis, as mortes descritas na parte dos crimes não possuem um assassino comum. Ao mesmo tempo, todos possuem o mesmo assassino, o sistema, que opera silenciosamente, estendendo seus tentáculos através da fronteira mexicana e somando vítimas a cada página virada. Por isso pode ser afirmado que o que se encontra no epicentro de 2666 é o mal absoluto, é a situação do mundo moderno, na qual já não sabemos mais quais são os limites entre civilização e barbárie.
Por fim, a última parte da narrativa vem apenas corroborar a questão central que já havia sido explorada ao máximo na parte dos crimes. A parte de Archimboldi (243 páginas) funciona como uma maneira de desvendar o passado do escritor que, já citado na primeira parte, era o elemento cultuado pelo grupo de críticos europeus. Ao remontar a confusa biografia de Hans Reiter, alemão que assume o pseudônimo de Benno von Archimboldi depois de matar um assassino de judeus num acampamento americano de prisioneiros de guerra (p. 738), o mesmo personagem que compartilha com Archimboldi seus crimes, e os métodos que havia utilizado para eliminar centenas (p. 722), Roberto Bolaño concede um espaço particular às histórias que irão se entrecruzar no caminho do escritor, quer ele seja apenas uma testemunha ou um ouvinte.
Ao escolher um episódio da Segunda Guerra, ainda, Bolaño retorna às vítimas legíveis, àquelas que já fazem parte do nosso imaginário, mas somente para salientar a crueldade humana. O número a que se refere o título encontra possível abrigo não no livro do Apocalipse, como gostariam os cristãos, mas no caos, na violência e no medo que imperam no mundo pós-industrial. De outro lado, a escolha do autor para o nome de seu personagem tem clara relação com o propósito que quis infundir na obra. Ora, os quadros que Archimboldo pintava possuíam, em seu âmago, a mesma essência que orienta a obra do escritor chileno: fragmentos, metáforas e elementos diversos se encontram unidos para dar corpo a algo maior.
No caso do pintor, as figuras escolhidas podiam ser retratos ou até estações do ano, e todas eram formadas pela união de elementos significativos, que de alguma maneira poderiam expressar individualmente aquilo a que estavam se referindo. Folhas amareladas e frutos característicos formam o outono, da mesma maneira que flores formam a primavera. Essa era a lógica que se encontrava no cerne da pintura de Arcimboldo. O mesmo iremos encontrar no cerne de 2666. Ao narrar histórias que parecem independentes, Roberto Bolaño está na realidade construindo um mosaico detalhado do mundo (pós)moderno em que vivemos.
Se unirmos todas as partes de 2666, iremos verificar que Bolaño se valeu do mesmo método de Arcimboldo para construir sua obra. De ser acrescentado, ainda, que ao colocar num parente de Archimboldi a suspeita dos assassinatos ocorridos, a obra encontra todo um valor conglobante e inteligível, o que não seria tão bem verificado se os livros (como queria Bolaño, atendendo a um aspecto unicamente econômico para com seus herdeiros) fossem divididos, o que veio a ocorrer de fato em edições estrangeiras da obra.
Poderia, sem a menor sombra de dúvida, levantar outras questões que o livro traz, justamente por sua grandeza léxica e outras conexões (literárias, artísticas, psicológicas) possíveis, mas não quero tirar ou evidenciar demais focos que só a leitura da obra pode dar. Estes são apenas alguns indícios que fazem de 2666 uma obra diferente até dos livros de seu próprio escritor. Ao eleger como inspiração uma Ciudad Juárez, Bolaño foi capaz de ampliar o que já havia de forte em sua prosa, ao mesmo tempo em que a explorou numa potencialidade única – criou histórias dentro de histórias, personagens a partir de personagens, e citou estilo atrás de estilo, sem nunca perder o próprio (marcado por um ritmo ágil e um humor cínico em que transparece seu ceticismo) –, fazendo assim com que 2666 ultrapassasse os limites compreendidos pela literatura e pudesse ser encarado como uma obra de arte que permanecerá inscrita na História contemporânea, um oásis literário terrificante ecoando para sempre sua genialidade e denúncia aos efeitos da brutalidade gerada pela própria civilização.